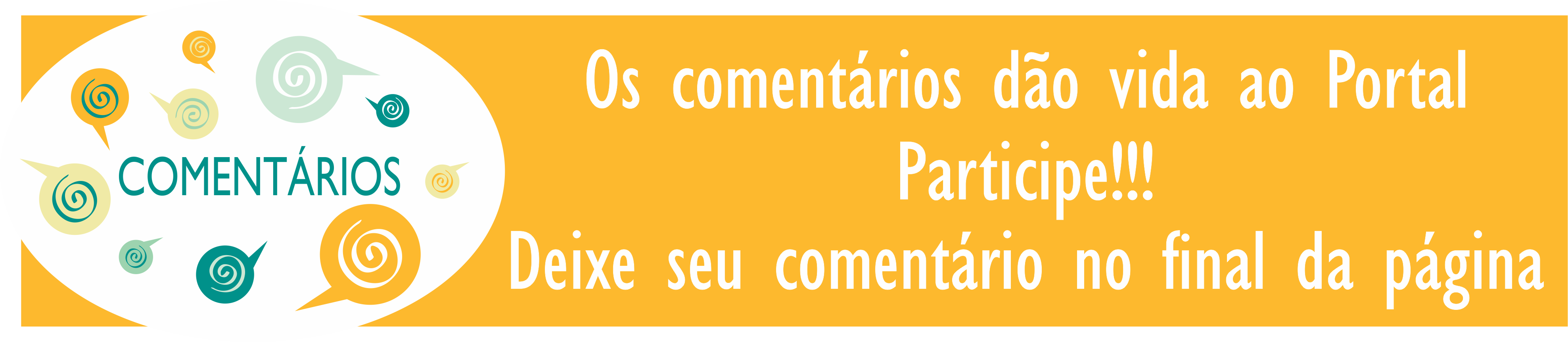Escrever me reinventa

A diversidade da riqueza humana
23 de novembro de 2017
A mais linda de todas: A MATURIDADE
27 de novembro de 2017Comecei a escrever quando tinha 12 anos. Não porque gostasse, e gostava, mas porque precisava. Era um jeito de me expressar, eu, que era tão tímida e completamente convencida de que esse perfil não combinava comigo. Era um jeito de me mostrar de um modo que era possível, terceirizado, distanciado, desapegado. Nessa época eu muitas vezes levantava no meio da madrugada para escrever na sala, algumas vezes sem acender a luz para não acordar minha mãe que, ainda assim, levantava, assustada no início, e ia ver o que era. Com o tempo, ela passou a achar normal, embora por via das dúvidas, tirasse as chaves da porta. Ela nunca sabia se eu estava sonâmbula ou insone.
Escrever sempre foi uma saída perfeita para as emoções desencontradas demais dentro de mim. É que emoções não correm em circuito fechado, como sangue. Têm uma válvula propulsora própria, em cada neurônio da pele, em cada sentido e em todo sem sentido que a vida possa ter. Escrever é como passar um pente no cabelo de manhã, antes mesmo de você tentar saber quem é. Antes mesmo de entender porque.

Escrevo a cada momento que preciso, mais fácil do que ir comer quando estou com fome, ou mais cotidiano e rotineiro do que ir dormir quando já parece muito tarde. Me alimenta mais, me relaxa muito mais. Às vezes dá para perceber claramente. Mas nem sempre. Porque escrever é insólito. É como fechar os olhos quando criança para se esconder. Ou rezar para ter dinheiro. Ou dizer “vá embora” quando quis dizer “eu te amo”. Escrever é para os que não sabem.
“E a sensação de liberdade
disparando o coração.”
E eu não sei nada, nada. Eu não entendo nada. Por que mãos espalmadas e perplexas quando o que queriam era entrelaçarem-se? Por que bocas crispadas e duras quando apenas um sorriso salvaria tudo, o dia, o momento? Por que os olhares se desviam para tentarem desesperadamente não dizerem o que estão dizendo? E por que derramar a água do chá ao pé de quem traz a erva que lhe daria sabor?
E por não entender, as palavras escorrem dos meus olhos e se prendem sob a língua, a boca cheia dágua, afogando-as. Eu quero dizer, mas não digo. Não sei como dizer. Não sei o que quero dizer. No final, sobra um pouco de gosto pegajoso e deserto insinuando que haverá continuação, que não foi possível escorrer tudo. E a sensação de liberdade disparando o coração.

Talvez eu seja apenas viciada nessa coisa adrenalinada que é expressar uma emoção, não com clareza, mas como porta que se abre de repente com um vento, com uma chuva, com um susto.
Com o tempo eu me deparei com o dizer alheio. Descobri que escrever era como sentir o que não precisava viver, assim como se contasse da sua dor, do gosto que você sentiu quando experimentou, da lembrança que você tinha quando apenas abriu os olhos e percebeu que sonhava. Comecei a entender que a palavra pode funcionar como uma vacina, um antígeno, algo que penetra a veia, inocula o sangue, e volta através de um risco no papel branco, trazendo na boca que conta ou lê aquilo que viu quando esse sangue chegou ao coração.
“A palavra me fez cúmplice.
Passei a enxergar a luz do dia
através das lentes de quem me lia.”
Escrever, então, passou a ser a forma como eu passei a viver o que não era minha vida na linha da minha mão. Era a linha da vida do outro. A palavra me fez cúmplice. Passei a enxergar a luz do dia através das lentes de quem me lia. Eu dizia: eu, e na verdade alguém se percebia nesse eu. Estendia a mão e tocava os dedos daquele que segurava o papel, daquele que corria o monitor no texto que me espelhava. Havia tristeza nos olhos, e eram os meus que se umedeciam. Abria um sorriso no rosto, e era alguém que me sorria. Demorou para me desembolar daquela trama. Enroscada na minha pele corria um fio de tinta que contava uma história que não era a minha.
Mas o que é meu, de fato, quando olho pela vidraça da janela e conto o que vejo? O que é do outro, quando descrevo sua mão balançando sozinha, inútil, para aquele que já se virou e se foi, deixando-o, o queixo um pouco caído, a boca um pouco aberta, o olhar esperando um último olhar? O que é seu, quando digo que também eu fiquei um dia sozinha, a mão vazia, sem lugar, e o tempo pareceu parar para sempre?
“a palavra é aquela parte do nosso
corpo que conta nossa história.”
Na dor que expresso talvez você sinta um pouco o aperto no estômago, uma fagulha fina e curta correndo pelo umbigo, porque a dor une tanto quanto a felicidade. Porque o sentimento é um mar juntando todas as praias numa só, todas as alegrias numa só. Porque basta esticar o braço para tocar o rosto marcado pelo tempo, pela vida, o rosto que é meu, que é seu, que não é de ninguém e é de todo mundo. Porque a emoção é como o ar que circula pelos meus pulmões e no seu, levando de um para o outro o calor dos nossos corpos. E porque a palavra é aquela parte do nosso corpo que conta nossa história.
A minha palavra entrelaça sua frase numa só respiração e, assim, vou me recontando em outra, vou me escutando em você, me refazendo no seu gesto que me desfaz. E depois, ah, depois sim, vem o silêncio apaziguador, como um abraço apertado. O silêncio macio e morno, purificador, do gozo. O silêncio do eu sou você.
Clique aqui para ler outros textos de Fernanda Kurebayashi